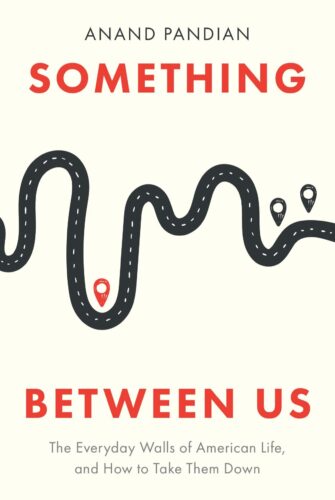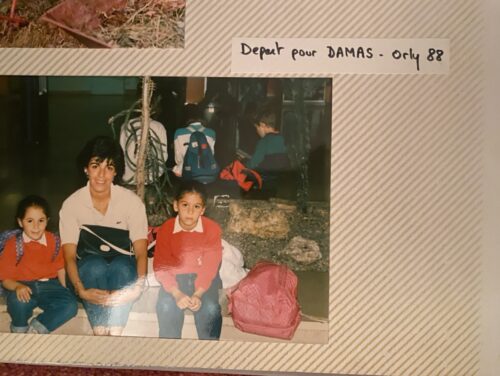Como as sociedades se transformam com as estações do ano

Se você perguntar a um caçador-coletor BaYaka na floresta tropical da África Central: “Onde você mora?”, é comum que a resposta seja outra pergunta: “Mouanga ou Pela?”
Você receberá a mesma resposta para quase todas as perguntas sobre a vida deles: Com quem você mora? Quem é a liderança deste acampamento? Como vocês fazem o luto pelos mortos?
“Mouanga ou Pela?”—significando “estação seca ou chuvosa?” O mundo social dos BaYaka muda ao longo do ano. A localização e o tamanho de suas casas, os materiais usados para construí-las, a liderança, os funerais—tudo se transforma dependendo da estação.
Como antropóloga evolucionista que trabalha com os BaYaka, inicialmente presumi que as pessoas simplesmente se adaptavam devido à disponibilidade sazonal de diferentes alimentos. Mas suas mudanças se estendiam muito além da subsistência, abrangendo as áreas da política, economia, rituais e relacionamentos.
Essas mudanças contrastam fortemente com minhas próprias casas no Reino Unido e na Espanha, países aparentemente presos a ordens sociopolíticas e econômicas fixas. A flexibilidade dos BaYaka me fez repensar minhas pressuposições sobre o que é “natural” para as sociedades humanas, incluindo papéis de gênero, hierarquias e tamanhos de grupos sociais.
E quanto mais eu olhava, mais percebia que a flexibilidade dos BaYaka não é a anomalia: a rigidez das sociedades industrializadas e capitalistas é que é. Ao longo da história e da geografia, as sociedades reestruturaram suas vidas sociopolíticas e econômicas em resposta às mudanças sazonais—e talvez não apenas devido à instabilidade dos recursos. As pessoas também podem fazer isso porque reconhecem os perigos da estagnação.
Na minha opinião, a reestruturação regular mantém as comunidades adaptáveis e resilientes. Resolver os maiores desafios de hoje—desigualdade, autoritarismo, crise climática—pode exigir a adoção dessa flexibilidade como parte da estrutura de nossas sociedades.
A CATEGORIZAÇÃO DAS SOCIEDADES
Durante a maior parte da nossa existência, os seres humanos viveram como caçadores-coletores. Hoje, apenas um pequeno número de sociedades ainda depende da coleta. Mas estudar como esses grupos se adaptam a diferentes ambientes ajuda os antropólogos evolucionistas a compreender como nossa espécie se tornou tão difundida e bem-sucedida.
Assim como nossos parentes primatas, os coletores humanos costumam viver no que os antropólogos chamam de sociedades de “fissão-fusão”—sistemas fluidos nos quais os grupos se unem ou se separam dependendo da disponibilidade de recursos. Mas, para os chimpanzés, as fronteiras territoriais e as rígidas hierarquias de domínio restringem as possibilidades de vários arranjos sociais. Os seres humanos, por outro lado, podem negociar suas relações por meio da linguagem, convenções compartilhadas e instituições culturais. Essa capacidade permite formas mais flexíveis—e muitas vezes mais igualitárias—de vida social.
Apesar de reconhecer essa flexibilidade, muitos antropólogos e arqueólogos historicamente classificaram as sociedades em tipos fixos. Um dos modelos mais influentes, desenvolvido pelo antropólogo norte-americano Elman Service na década de 1960, propôs quatro categorias: bandos, tribos, chefias e estados. Nessa estrutura, pequenos grupos móveis de caçadores-coletores (“bandos”) são vistos como a forma mais básica de organização social. Com o tempo, as sociedades se desenvolvem em tribos, depois chefias e, finalmente, estados—ao longo do caminho, tornando-se maiores, sedentárias e hierárquicas. Essas qualidades tornam uma sociedade mais “complexa”, sugere o modelo.
Ao longo dos anos, muitos questionaram e desafiaram esse modelo: os livros didáticos de antropologia de hoje podem apenas mencioná-lo como uma nota histórica, em vez de uma lição sobre o pensamento atual. Mas a lógica básica de Service permanece, influenciando a forma como pesquisadores e o público em geral tendem a ver a história humana: como uma progressão linear inevitável, de móvel para sedentária, de igualitária para hierárquica, de simples para complexa.
Esse pensamento também aparece na arqueologia. Quando os pesquisadores descobrem mudanças nas ferramentas, na arquitetura ou em outros objetos arqueológicos, muitas vezes presumem que os habitantes anteriores foram substituídos por forasteiros. Os recém-chegados—“avançados” de alguma forma—trariam uma estrutura social diferente, que poderia ser perfeitamente encaixada em um “estágio” ou outro.
Eu também levei essas suposições para minha primeira viagem de campo com os BaYaka. Cheguei às florestas tropicais da Bacia do Congo esperando encontrar um “tipo” fixo de sociedade.
MUDANÇAS SAZONAIS
Os antropólogos que trabalharam com os BaYaka costumam caracterizá-los como caçadores-coletores “igualitários”. Os relatórios dos pesquisadores afirmam que os BaYaka vivem em pequenos acampamentos móveis e sobrevivem principalmente de inhame selvagem, mel e animais como macacos azuis.
Mas quando visitei os BaYaka em 2023, observei mais variações em seu estilo de vida, dependendo da época do ano. Em fevereiro, as comunidades vivem em grandes aglomerações perto das aldeias, cultivando mandioca e pescando. Alguns meses depois, quando as chuvas retornam, esses assentamentos se dissolvem e grupos de menos de 15 pessoas se dispersam pela floresta para coletar mel, lagartas e cogumelos.
Essas mudanças nas estratégias de subsistência significam mais do que apenas uma mudança na dieta: elas exigem reorganizações sociais completas. A liderança, a cooperação e até mesmo a vida espiritual se transformam com as estações. Rituais como o Ejengi, que reúnem centenas de pessoas na estação seca, tornam-se práticas íntimas entre parentes próximos e amigos na estação chuvosa. Outros rituais, como o Eboka, que comemora a morte de um parente, só ocorrem durante a estação seca.
E os BaYaka não são únicos em suas mudanças cíclicas. O antropólogo francês do século XX Claude Lévi-Strauss documentou as transformações sazonais entre os Nambikwara, um grupo indígena amazônico cujo território hoje fica no centro do Brasil. Durante cinco meses por ano, de acordo com Lévi-Strauss, eles habitavam grandes aldeias, cuidando de pequenas hortas para se alimentar. Quando a estação seca começava, eles se dispersavam em grupos menores e móveis de caçadores-coletores. Essas mudanças também provocavam uma reversão da autoridade política. Durante a estação seca, as lideranças se tornavam tomadoras de decisão autoritárias, resolvendo conflitos diretamente. Quando as chuvas voltavam, as mesmas lideranças não detinham mais poder coercitivo. Elas só podiam tentar influenciar por meio de táticas como persuasão gentil ou cuidados com os doentes.
Da mesma forma, na virada do século XX, o antropólogo Franz Boas observou que a desigualdade atingia seu pico durante o inverno entre os Kwakiutl, ou Kwakwa̱ka̱ʼwakw, um povo indígena ao longo da costa do Pacífico do que hoje é o Canadá. Boas escreveu sobre as aldeias de inverno dos Kwakwa̱ka̱ʼwakw, com hierarquias rígidas e grandes eventos cerimoniais. No verão, essas estruturas rígidas se dissolviam à medida que as comunidades se dividiam em grupos menores e mais flexíveis. E, em vez de as pessoas fazerem isso inconscientemente apenas para se adaptar ao clima, elas estavam tão conscientes da natureza política de suas práticas que os indivíduos até mudavam de nome quando adotavam novas posições sociais para as cerimônias de inverno.
Enquanto isso, em meus países de origem e em muitos outros hoje, as instituições parecem imutáveis, mudando apenas durante revoluções, golpes ou guerras.
PERDENDO A IGUALDADE
Em janeiro passado, muitos assistiram à posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiado por três homens cuja riqueza combinada excedia a de 50% das pessoas mais pobres (mais de 165 milhões) dos Estados Unidos. Ao contrário dos caçadores-coletores sazonais, cujas ordens sociais se invertem regularmente, a maioria das pessoas no “mundo ocidental” vive agora em sistemas onde a desigualdade se aprofunda continuamente, sem nenhum mecanismo interno para restabelecer o equilíbrio.
Como estudiosos profundamente preocupados com as raízes da desigualdade, o falecido antropólogo David Graeber e o arqueólogo David Wengrow perguntaram em The Dawn of Everything:
“Como ficamos presos? Como acabamos em um único modo? … Como passamos a tratar a eminência e a subserviência não como expedientes temporários, ou mesmo como a pompa e circunstância de algum tipo de grande teatro sazonal, mas como elementos inevitáveis da condição humana?”
Muitos estudiosos atribuem as raízes da desigualdade ao advento da agricultura, argumentando que ela “fixou” as hierarquias sociais. A lógica é simples: a agricultura permite que as pessoas se estabeleçam em um lugar e acumulem excedentes de alimentos e outros bens, criando as condições para a divisão entre ricos e pobres. Os arqueólogos há muito tempo supõem que essa desigualdade emergente coincidiu com o surgimento de características como sepultamentos elaborados ou grandes monumentos. Essas estruturas existiriam para celebrar pessoas poderosas e exigiriam uma autoridade central para comandar sua construção, segundo essa linha de pensamento.
Mas é possível que os vestígios arqueológicos contem uma história mais complexa.
Muito antes da agricultura, durante a última era glacial, as pessoas já construíam grandes estruturas. Já há 18 mil anos, na borda glacial de Cracóvia a Kiev, caçadores-coletores construíam casas circulares com ossos de mamutes—estruturas que alguns arqueólogos descrevem como formas primitivas de arquitetura pública. Esses não eram assentamentos permanentes, com base na presença de ossos de animais disponíveis sazonalmente. Eles parecem ter sido locais de agregação sazonais, construídos e ocupados temporariamente quando grupos dispersos se reuniam para cooperar, compartilhar recursos, realizar rituais e depois se dispersar novamente.
Mais famosos ainda, os enormes recintos de pedra em Göbekli Tepe no sudeste da Turquia (muitas vezes interpretados como “o primeiro templo do mundo”), foram construídos há mais de 11.000 anos por coletores. Não há evidências de que o local tenha sido habitado permanentemente, nem que tenha sido produto de alguma grande mudança, como novos migrantes ou o início da agricultura. Assim como as casas de ossos de mamute, pode ter sido um centro de reunião sazonal construído por comunidades que se reuniam temporariamente para criar algo extraordinário—e depois iam embora.
Esses casos invertem a narrativa usual. Em vez de assumir que a hierarquia é o prêmio da complexidade, esses locais sugerem que nem toda arquitetura monumental exigia uma classe dominante. Durante grande parte da história da humanidade, as sociedades não seguiram uma única trajetória política—elas alternavam entre diferentes modos de organização, muito parecido com o que os BaYaka fazem hoje.
Reconhecer a longa tradição de fluidez social da humanidade coloca o presente em perspectiva: o “mundo ocidental” não é a culminação de uma marcha de 10.000 anos, mas uma anomalia em uma história de 300.000 anos de adaptabilidade cultural de Homo sapiens.
RECUPERANDO A FLEXIBILIDADE SAZONAL
Os seres humanos há muito tempo conseguem reestruturar suas sociedades com a mudança das estações, refutando a narrativa de que a desigualdade é um destino inevitável para todos nós.
Mas meu argumento não é que os ambientes sazonais forçaram os seres humanos a permanecerem flexíveis e, portanto, sem a sazonalidade, a flexibilidade não existiria. Em vez disso, é que lidar regularmente com condições radicalmente diferentes permitiu às pessoas experimentar diversos arranjos sociais e políticos. Por sua vez, essa adaptabilidade está na base da capacidade de nossa espécie de prosperar em quase todos os ecossistemas da Terra.
Como Wengrow e Graeber também enfatizaram, as mudanças sazonais não têm um padrão definido. Os maiores rituais ocorrem durante a estação seca para os BaYaka e durante a estação chuvosa para os Nambikwara na Amazônia. Entre os pastores Gabbra do norte do Quênia, os ciclos lunares, e não o clima, determinam as estações sagradas de Soomdeer e Yaaqa, como me revelou recentemente um ancião.
Até mesmo nas sociedades industrializadas, ecos dessa flexibilidade persistem. Considere a “época festiva” nos países capitalistas com um grande número de pessoas cristãs. Durante a maior parte do ano, o individualismo domina. Mas, em dezembro, o trabalho diminui e as tradições sociais incentivam a generosidade, a comunidade e a conexão—perturbando brevemente a ordem social habitual. Historicamente, reversões sazonais semelhantes ocorreram durante a Saturnália romana, os carnavais medievais na Europa e as celebrações globais do Dia do Trabalhador. As hierarquias foram temporariamente subvertidas e formas alternativas de vida social foram exploradas.
Os seres humanos sempre tiveram a capacidade de imaginar e implementar diferentes arranjos sociais. Pegue duas comunidades contemporâneas de chimpanzés e sua organização social será semelhante—tanto entre si quanto aos grupos de chimpanzés do século passado. Compare sociedades contemporâneas como a dos Estados Unidos e a dos BaYaka, e elas dificilmente poderiam ser mais diferentes. No entanto, ambas representam possibilidades ativas na imaginação política humana.
Nenhuma ordem social é inevitável. Nenhuma estrutura de poder ou desigualdade é fixa. A adaptabilidade define nossa espécie desde suas origens. Para sociedades que parecem estagnadas, recuperar a flexibilidade pode ser o maior desafio—mas também a solução para suas aflições existenciais.